Os Tupi da costa
Quando os primeiros europeus aportaram na costa atlântica sul-americana, eles encontraram principalmente povos tupi, que se distribuíam do atual estado do Maranhão, ao norte, ao de São Paulo, ao sul. Esses povos falavam línguas bastante próximas entre si, talvez vários dialetos de uma mesma língua, que passou a ser conhecida como Tupi Antigo. Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Temiminó e Potiguar eram algumas das denominações com que diferentes grupos de povo tupi aparecem nas fontes dos séculos XVI e XVII. De maneira geral, eles ficaram conhecidos como os Tupi da costa.
Embora os primeiros contatos entre os Tupi da costa e os invasores europeus (portugueses e franceses sobretudo) tenham sido pacíficos, não tardou para essas populações originárias sofressem as terríveis consequências da colonização. Guerras, epidemias, escravização, catequização e aldeamento forçado tiveram um impacto desastroso entre os Tupi da costa, que contudo lutaram como puderam contra os invasores. Parte significativa das populações morreu em decorrência de guerras, epidemias e campanhas de apresamento. Outra parte fugiu para o interior do país. Apesar de terem sido considerados praticamente desaparecidos da costa brasileira desde o final do século XVII, ainda hoje há povos herdeiros dos antigos tupi, como os Tupiniquim do Espírito Santo e os Tupinambá da Bahia.
Durante os séculos XVI e XVII, cronistas, viajantes, missionários, colonos e administradores coloniais documentaram muitos aspectos dos Tupi da costa. Por meio dessas fontes, é possível acessar o modo como esses povos viviam, que ainda é pouco conhecido da maioria dos brasileiros e bem diferente tanto da imagem estigmatizadora de que eram ferozes canibais quanto da imagem que os idealiza como bons selvagens. Nesta série de publicações, o Blog da BBM resgatará vários desses aspectos dos Tupi da costa presentes nas fontes quinhentistas e seiscentistas.
Organização das Aldeias
Hans Staden
Duas viagens ao Brasil (1547).
“Ao nos aproximarmos, nos deparamos com uma pequena aldeia de sete cabanas. Chamavam o lugar de Ubatuba. Dirigimo-nos a uma praia dando para o mar aberto. Bem perto, as mulheres trabalhavam numa lavoura de plantas de raízes que chamam de mandioca. Muitas mulheres estavam empenhadas em arrancar as raízes, e eu fui obrigado a gritar-lhes em sua língua: “Aju ne xé pee remiurama”, isto é: “Estou chegando, sou a vossa comida”.
“Como os Tupinambás constroem suas moradias
Eles as constroem de preferência em lugares onde há água e madeira, e também animais e peixes nas proximidades. Quando esgotam uma região, mudam suas moradias para outra. Quando querem construir suas cabanas, um chefe reúne um grupo de cerca de quarenta homens e mulheres, tantos quantos puder conseguir, e esses normalmente são seus amigos e parentes; erguem uma cabana, com cerca de quatorze pés de largura e, conforme o número de moradores, de até 150 pés de comprimento. Essas cabanas têm aproximadamente duas braças de altura, são redondas como uma abóbada de porão, no topo, e cobertas com uma espessa camada de folhas de palmeira para que não chova dentro. No interior, não são subdivididas por paredes. Ninguém tem um quarto próprio; no entanto, cada núcleo, marido e mulher, dispõe de um espaço de doze pés no sentido longitudinal. O lugar equivalente do outro lado, no sentido longitudinal, é tomado por outro núcleo. Assim, as cabanas ficam cheias. Cada núcleo tem seu próprio fogo. O chefe da cabana recebe um lugar no centro. Cada cabana tem geralmente três pequenas entradas, uma em cada extremidade e outra no meio. Ali são tão baixas que os selvagens precisam curvar-se ao entrar e sair.”
Jean de Léry
Viagem à Terra do Brasil (1578).
“E assim ficam escondidos mais de vinte e quatro horas às vezes [nas florestas]. Surpreendendo o adversário, agarram homens, mulheres e meninos e levam-nos de regresso às suas tábuas onde são os prisioneiros executados, moqueados e finalmente devorados. Essas surpresas são tanto mais fáceis quanto eles não têm as aldeias fechadas nem portas nas casas. Estas medem, em sua maioria, de oitenta a cento e vinte passos, importando apenas algumas folhas de palmeira ou da planta chamada pindá à guisa de entradas. É verdade que em torno de algumas aldeias fronteiriças e portanto mais ameaçadas pelo inimigo os selvagens costumam fincar troncos de palmeiras de cinco a seis pés de altura; também à entrada dos caminhos difíceis colocam estrepes agudos de modo a que se os assaltantes tentaram entrar de noite, como é do seu hábito, os da aldeia possam sair por atalhos que só eles conhecem e rechaçar os agressores; estes, se tentarem fugir ou combater, ferem os pés e caem, sendo aproveitados no moquém.”
“A propósito cabe dizer (coisa estranha nesse povo) que os brasileiros não se demoram em geral mais de cinco a seis meses no mesmo lugar. Carregam grossos pedaços de madeira e grandes palmas de pindoba para a construção e cobertura de suas casas e mudam as aldeias sem lhes mudarem os nomes o que faz que às vezes os encontramos a um quarto de légua ou mesmo meia légua de distância do lugar em que antes habitavam.”
Pero de Magalhães Gandavo
Tratado da Terra do Brasil: história da província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil (1826).
“Estes índios andam nus sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas, não cobrem parte nenhuma de seu corpo, e trazem descoberto quanto a natureza lhes deu. Vivem todos em aldeias, pode haver em cada uma sete, oito casas, as quais são compridas feitas à maneira de cordoarias; e cada uma delas está cheia de gente duma parte e doutra, e cada um por si tem sua estância e sua rede armada em que dorme, e assim estão todos juntos uns dos outros por ordem, e pelo meio da casa fica um caminho aberto para se servirem.”
“Não há como digo entre eles nenhum Rei, nem Justiça, somente em cada aldeia tem um principal que é como capitão, ao qual obedecem por vontade e não por força; morrendo este principal fica seu filho no mesmo lugar; não serve doutra cousa senão de ir com eles à guerra, e conselhá-los como se hão de haver na peleja, mas não castiga seus erros nem manda sobre eles cousa alguma contra sua vontade. Este principal tem três, quatro mulheres, a primeira tem em mais conta, e faz dela mais caso que das outras. Isto tem por estado e por honra. Não adoram cousa alguma nem têm para si que há na outra vida glória para os bons, e pena para os maus, tudo cuidam que se acaba nesta e que as almas fenecem com os corpos, e assim vivem bestialmente sem ter conta, nem peso, nem medida.”
“As povoações destes índios são aldeias: cada uma delas tem sete, oito casas, as quais são muito compridas feitas à maneira de cordoarias ou tarracenas fabricadas somente de madeira e cobertas com palma ou com outras ervas do mato semelhante; estão todas cheias de gente de uma parte e de outra e cada um por si tem a sua instância, a sua rede armada, em que dorme e assim estão uns juntos dos outros por ordem, e pelo meio da casa fica um caminho aberto por onde todos se servem como dormitório, ou coxia de galé. Em cada casa destas vivem todos muito conformes, sem haver nunca entre eles nenhuma diferença: antes são tão amigos uns dos outros, que o que é de um é de todos, e sempre de qualquer cousa que um coma por pequena que seja, todos os circunstantes hão de participar dela.”
Fernão Cardim
Tratado da Terra e Gente do Brasil (1583 e 1601)
“Usam estes índios de umas ocas ou cascas de madeira cobertas de folha, e são de comprimento algumas de duzentos e trezentos palmos, e têm duas e três portas muito pequenas e baixas; mostram sua valentia em buscarem madeira e esteios muito grossos e de dura, e há casa que tem cinquenta, sessenta ou setenta lanços de vinte e cinco ou trinta palmos de comprido e outros tantos de largo.”
“Moravam os índios antes de sua conversão em aldeias, em umas ocas ou casas mui compridas, de duzentos, trezentos, ou quatrocentos palmos, e cinquenta em largo, pouco mais ou menos fundadas sobre grandes esteios de madeiras, com as paredes de palha ou de taipa de mão, cobertas de pindoba, que é certo gênero de palma que veda bem água, e dura três ou quatro anos. Cada casa dessas tem dois ou três buracos sem portas nem fecho: dentro nelas vivem logo cento ou duzentas pessoas, cada casal em seu rancho, sem repartimento nenhum, e moram duma parte e outra, ficando grande largura pelo meio, e todos ficam como em comunidade, e entrando na casa se vê quanto nela está, porque estão todos à vista uns dos outros, sem repartimento nem divisão. E como a gente é muita, costumam ter fogo de dia e noite, verão e inverno, porque o fogo é sua roupa, e eles são muito coitados sem fogo.”
____________________
Referências bibliográficas
Cardim, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Darcy Ribeiro, 2013.
Léry, Jean de. Viagem à Terra do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1961.
Gandavo, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil: história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2008
Staden, Hans. Duas Viagens ao Brasil. Porto Alegre, L&PM, 2008.
____________________
Matheus Gabriel Castro Brito, graduando em História pela FFLCH-USP e bolsista da BBM pelo Programa Unificado de Bolsas (PUB 2024-2025), fez a seleção dos trechos apresentados.


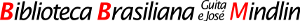
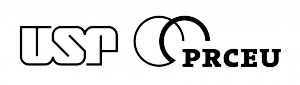
É impressionante perceber como esses povos tinham uma organização social estruturada, estratégias de sobrevivência bem definidas e uma cultura vibrante, que resistiu apesar dos impactos devastadores da colonização. A análise das fontes históricas, como os relatos de Hans Staden e Jean de Léry, nos permite enxergar além dos estereótipos de “bons selvagens” ou “ferozes canibais”, mostrando a complexidade e a resiliência dessas comunidades.